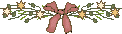«Mas a meio caminho voltou para trás, direita ao mar. Paulo ficou de pé no areal, a vê-la correr: primeiro chapinhando na escuma rasa e depois contra as ondas, às arrancadas, saltando e sacudindo os braços, como se o corpo, toda ela, risse. Uma vaga mais forte desfez-se ao correr da praia, cobriu na areia os sinais das aves marinhas, arrastou alforrecas abandonadas pela maré. Eram muitas, tantas como Paulo não vira atéentão, çadase sem vida ao longo do areal. O vento áspero curtira-lhes os corpos, passara sobre elas, carregado de areia e de salitre,varrendo a costa contra as dunas, sem deixar por ali vestígios de pegada ou restos de alga seca que lhe resistissem.»
«Marcaste o despertador?»
«Hã?»
«O despertador, Quim. Para que horas o puseste?»
«...E tudo à volta era névoa, fumo do mar rolando ao lume das águas e depois invadindo mansamente a costa deserta. Havia esse sudário fresco, quase matinal, embora, cravado no céu verde-ácido, despontasse já o brilho frio da primeira estrela do anoitecer...»
«Desculpa, mas não estou descansada. Importas-te de me passar o despertador?»
«O despertador?»
«Sim, o despertador. Com certeza que não queres que eu me levante para o ir buscar. És de força,caramba.»
«Pronto. Estás satisfeita?»
«Obrigada. Agora lê à vontade, que não te torno a incomodar. Eu não dizia? Afinal não lhe tinhas dado corda... Que horas são no teu relógio? Deixa, não faz mal. Eu regulo-o pelo meu.»
«-Mais um mergulho - pedia a rapariga. A dois passos dele sorria-lhe e puxava-o pelo braço; - Só mais um, Paulo. Não imaginas como a água está estupenda. Palavra, amor. Estupenda, estupenda, estupenda.
Uma alegria tranquila iluminava-lhe o corpo. A neblina bailava em torno dela, mas era como se a não tocasse. Bem ao contrário: era como se, com a sua frescura velada, apenas despertasse a morna suavidade que se libertava da pele da rapariga.
- Não, agora já começa a arrefecer - disse Paulo.
- Vamo-nos vestir?
Estavam de mãos dadas, vizinhos do mar e, na verdade, quase sem o verem. Havia a memória das águas na pele cintilanteda jovem ou no eco discreto das ondas através da névoa; ou ainda no rastro de uma vaga mais forte que se prolongava, terra adentro, e vinha morrer aos pés deles num distante fio de espuma. E isso era o mar, todo o oceano. Mar só presença. Traço de água a brilhar por instantes num rasgão do nevoeiro. Paulo apertou mansamente a mão da companheira;
- Embora?
- Embora - respondeu ela. E os dois, numa arrancada, correram pelo areal, saltando poças de água, alforrecas mortas e tudo o mais, até tombarem de cansaço.»
«Quim... » «Outra vez?» «Desculpa, era só para baixares o candeeiro. Que maçada, estou a ver que tenho de tomar outro comprimido.»
«Lê um bocado, experimenta.»
«Não vale de nada, filho. Tenho a impressão de que estes comprimidos já não fazem efeito. Talvez mudando de droga... É isso, preciso de mudar de droga.»
«- Tão bom, Paulo. Não está tão bom?
- Está óptimo. Está um tempo espantoso. Maria continuava sentada na areia. Com os braços envolvendo as
pernas e apertando as faces contra os joelhos, fitava o nada, a brancura que havia entre ela e o mar, e
os olhos iam-se-lhe carregando de brilho.
- Tão bom - repetia.
- Sim, mas temos que ir. Com o cair da tarde a névoa desmanchava-se pouco a pouco. Ficava unicamente a cobrir o mar, a separá-lo de terra como uma muralha apagada, e, de surpresa, as dunas e o pinhal da costa surgiam numa claridade humilde e entristecida.
Já de pé, Paulo avistava ao longe a janela iluminada do restaurante.
- O homem deve estar à nossa espera
- disse ele. - Ainda não tens apetite? - E tu, tens? - Uma fome de tubarão. - Então também eu tenho, Paulo.
- Ora essa? - Tenho, pois. Hoje sinto tudo o que tu sentes. Palavra.
«Se isto tem algum jeito. Qualquer dia já não há comprimidos que me cheguem, meu Deus.» «Faço ideia, com essa mania de emagrecer... »
«Não, filho. O emagrecer não é para aqui chamado. Se não consigo dormir, é por outras razões. Olha, talvez seja por andar para aqui sozinha a moer arrelias, sem ter com quem desabafar. Isso, agora viras-me as costas. Nem calculas a inveja que me fazes.»
«Pois.»
«Mas sim, fazes-me uma inveja danada. Contigo não há complicações que te toquem. Voltas as costas e ficas positivamente nas calmas. Invejo-te, Quim. Não calculas como eu te invejo. Não acreditas?»
«Acredito, que remédio tenho eu?»
«Que remédio tenho eu... É espantoso. No fim de contas ainda ficas por mártir. E eu? Qual é o meu remédio, já pensaste? Envelhecer estupidamente. Aí tens o meu remédio.»
«Partiram às gargalhadas. À medida que se afastavam do mar, a areia, sempre mais seca e solta, retardava-lhes o passo e, é curioso, sentiam as noite abater-se sobre eles. Sentiam-na vir, muito rápida, e entretanto distinguiam cada vez melhor, as piteiras encravadas nas dunas, a princípio pequenas como galhos secos e logo depois maiores do que lhes tinham parecido à chegada. E ainda as manchas esfarrapadas dos chorões rastejando pelas ribas arenosas, o restaurante ermo, as traves; de madeira roídas pela maresia e, cá fora, as cadeiras de verga, que o vento tombara, soterradas na areia.
- O mar nunca aqui chega - tinha dito o dono da casa. - Quando é das águas vivas, berra lá fora como um danado. Mas aqui, Senhor. Aqui não tem ele licença de chegar.»
«A verdade é que são quase duas horas e amanhã não sei como vai ser para me levantar. Escuta...»
«Que é?»
«Não estás a ouvir passos?»
«Passos?»
«Sim. Parecia mesmo gente lá dentro, na sala. Se soubesses os sustos que apanho quando estou com insónias. A Nanda lá nisso é um exagero, eu nunca seria capaz de te acordar...mas, enfim, ela lá sabe. O que é certo é que se entendem à maravilha um com o outro. E isso, Quim, apesar de ser a tal tipa, que tu dizes. Também, ainda estou para ter uma amiga que na tua boca não seja uma tipa ou uma galinha.»
[...]
“A rapariga pôs-se séria de repente.” Ele tem gestos nervosos:
– É estranho, mas não sei como te hei-de dizer...
– Oh, não digas, Paulo.
Só nesse momento a pôde ver com clareza. Estava a sorrir, o nariz tremendo ao de leve.
– Não é preciso – murmurava ela então.
– Eu também tenho pensado nisso muitas vezes. Talvez, sei lá, talvez eu mesma to dissesse.
[...]
“Acabaste, Quim?”
“Sim, acabei.”
“E é bom, o livro?”
“É uma história de dois jovens apaixonados. Dois tipos novos.”
“Contas-ma Quim? É capaz de contar a história à sua mulherzinha?”
“Ora, quase não tem que contar. É um rapaz que está na praia com uma rapariga.”
“E depois? Conta, não sejas chato.”
“Depois vão tomar banho. Á noitinha, quando o sol está mesmo a desaparecer”.
“À noitinha? Tu não estás bom da cabeça, Quim.”
“Verdade. À noitinha.”
“Mas isso é só nos filmes dos milionários, lá nos mares do sul. Só aí é que há banhos à noite. Ou nas piscinas, quando está tudo bêbedo.”
“Não, estes não estavam bêbedos nem eram milionários.”
“Eram malucos. Ou então faziam isso para armar. Não me queres convencer que acreditas numa coisa dessas.”
“Claro que acredito. Porque não?”
“Pobre Quim. O meu Quim deu agora em maluquinho. Deu em maluquinho, não deu?”
“Quieta, Lisa.”
“Deu em maluquinho, pois. Mas eu sou a mulherzinha dele e vou guardá-lo muito bem guardado para que não fuja para a praia como os maluquinhos. Não é?”
“Quieta, Lisa.”
Arrumou o livro na mesa-de-cabeceira e apagou a luz.
_______________________________________
José Cardoso Pires, Jogos de Azar, Lisboa,
Publicações Dom Quixote, 1999 (7ª ed.).